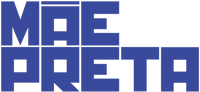Qiana Mestrich | Fotógrafa e Escritora |
O legado duradouro da escravidão nos corpos das mulheres negras nas Américas resultou, de forma visível, em algumas das taxas mais baixas de amamentação e, o que é ainda pior, em uma crise de mortalidade infantil e materna. As disparidades raciais que persistem ainda hoje (sobretudo na área da saúde) são efeitos em cascata da propagação das incontáveis violências físicas, psicológicas e sexuais sofridas pelas mulheres negras por séculos, enquanto desempenhavam funções domésticas e agrícolas na condição de escravizadas.
Nos Estados Unidos, uma parteira da Carolina do Norte descobriu recentemente uma razão pela qual a amamentação foi e ainda é evitada por mães negras americanas: o desejo de se desassociar do passado, da escravização e do estereótipo da ama de leite ou mãe preta. Essa imagem, amplamente aceita, ainda que fixa e simplista, de uma escravizada negra que alimenta bebês brancos com seu precioso leite materno é uma representação revoltante que foi propagada pelos meios visuais norte-americanos.mediação. Apesar do papel central (e poderoso) da mulher negra escravizada tanto dentro quanto fora da casa grande, é essa caricatura psicológica, social, comercial e racista que pairava na consciência americana e que foi posteriormente reproduzida em suas primeiras representações fotográficas.
As primeiras representações da função forçada de ama de leite foram feitas em gravuras e impressões que funcionaram como charges políticas em jornais e panfletos de propaganda. Enquanto a Guerra Civil nos Estados Unidos se intensificava e a economia escravocrata se via ameaçada, na década de 1860, a imagem da ama de leite foi usada em uma variedade de visões políticas sobrepostas, tanto contra quanto a favor da abolição da escravatura.
O futuro da América branca estava sendo nutrido por essas mães negras do Sul do país, forçadas a abandonar (as necessidades de) seus próprios filhos, mas que, apesar de sua condição de escravizadas, levaram vidas diferenciadas e complexas, como fontes de sabedoria, conforto, disciplina, aconselhamento e mediação. Apesar do papel central (e poderoso) da mulher negra escravizada tanto dentro quanto fora da casa grande, é essa caricatura psicológica, social, comercial e racista que pairava na consciência americana e que foi posteriormente reproduzida em suas primeiras representações fotográficas.
///
Em meados do século XIX, a câmera fotográfica é introduzida no mundo como uma extensão do domínio e do patriarcado branco masculino. Daguerrótipos, cartões de visita e fotografias de mulheres negras americanas escravizadas imitavam as poses e o olhar das gravuras litográficas que vieram antes. Essas imagens enfatizavam a importância dos corpos das mulheres negras, especificamente seus ventres e seios, para (o futuro da) escravidão.
Uma imagem recorrente no álbum da família colonial era a ama de leite “fiel” posando com a criança (branca) de quem cuidava. Ironicamente, essas fotografias de família tornaram as escravizadas negras tecnicamente visíveis, ainda que fossem socialmente invisíveis. Mesmo com as evidências materiais e visuais oferecidas por essas fotografias, pouca atenção tem sido dedicada historicamente ao trabalho escravizado não masculino. Sabe-se muito pouco sobre a violência reprodutiva e materna que as mulheres brancas praticavam contra suas escravizadas. O que é visível, e ainda hoje (digitalmente) colecionável, em plataformas como Pinterest, leilões online e mercados de pulgas, são essas imagens posadas que um dia fizeram parte do álbum de família do senhor de escravizados.
O retrato de estúdio da ama de leite é produzido para ser sentimental, como visto no Retrato de Eliza Benson Conhecido como Mãe Preta com Criança (sem data). Olhar esses retratos é uma experiência dolorosa, especialmente se atentamos aos olhos da mulher ou menina negra. Elas raramente sorriem e, na maioria das vezes, seus olhos são vítreos, como se estivessem sempre chorando. Esses olhos representam uma vida sem escolhas. São abatidos e desalentados, medrosos e obedientes, entediados e ansiosos, envergonhados, exaustos ou, às vezes, claramente desafiadores.
É como no caso de Eliza “Mammy” Benson (1836-1921), ama de leite da pioneira fotógrafa americana Emily Spencer Hayden (1869-1949) e de sua família. Nascida na escravidão, aos quatro anos de idade ela foi dada a uma menina branca; à época desta fotografia, já era uma liberta considerada. Trabalhou (gratuitamente) para os pais de Hayden, no entendimento de que era membro da família. Benson acabaria se tornando a guardiã legal das crianças Hayden depois que ela perdeu os pais, em 1883. Não está claro se Benson teve filhos próprios.
Dentro da Coleção Fotográfica Emily Spencer Hayden, abrigada na Sociedade Histórica de Maryland, há pelo menos dez imagens de Eliza “Mammy” Benson. Ela é retratada segurando as crianças de quem cuidava e realizando tarefas domésticas. Em pelo menos duas fotografias, segura as crianças (das quais já era guardiã legal), mas posando da mesma forma que antes, como que para sugerir que não tinha relação com elas, que estava ali apenas para realizar um serviço.
O que não fica aparente nos retratos de amas de leite com suas “crias” é a dura realidade e os horrores diários da vida dessas mulheres negras: jornadas de trabalho de catorze a dezesseis horas ininterruptas; filhos próprios criados sem pai e sem que a mãe tivesse permissão para vê-los diariamente; ter de ser a companheira de brincadeiras da criança ou das crianças brancas sem nenhuma autoridade real sobre elas, ter de banhar, vestir e alimentar a(s) criança(s) durante o dia, e assisti-los a noite toda; além de outros trabalhos físicos e tarefas domésticas, sempre que fossem exigidas.
Um dos horrores mais indescritíveis era serem submetidas repetidamente a estupros e abusos sexuais praticados pelos proprietários de escravizados. No retrato de estúdio, era comum que as amas de leite posassem com os seios de fora ou amamentando uma criança – sua própria ou de seu senhor. As fotografias funcionavam como objetos coloniais que não só transformavam a mãe negra em caricatura como também reforçavam as fantasias brancas (masculinas) sobre essa mulher como sendo uma Jezebel, governada pela libido e, portanto, carregando no ventre a criança de seu senhor.
Essas primeiras representações fotográficas raramente mostravam respeito pela maternidade negra. Ao contrário, desumanizavam e transformavam em mercadoria mulheres que se dedicavam ao mais humano dos atos, a gestação e a criação de filhos. No entanto, no caso de Eliza “Mammy” Benson, a Coleção Fotográfica Emily Spencer Hayden revela imagens espontâneas, que colocam Benson como um sujeito fotográfico, e não um objeto de natureza morta. Há uma imagem em particular em que ela segura o que parece ser uma câmera Kodak Folding Pocket, lançada pela empresa em 1898.
Benson segura a câmera de viagem com cuidado no seu colo, como se também a máquina fosse uma criança. Ela olha para a câmera, as costas curvadas em uma posição protetora. A câmera prende sua atenção, ou talvez ela esteja encarando as lentes, olhando para o seu próprio reflexo. Só podemos imaginar o que ela está pensando. Talvez ela esteja somente esperando em silêncio, fazendo a pose que lhe foi pedida. Independentemente das circunstâncias, nesta imagem as crianças que Benson está tão acostumada a carregar foram substituídas por uma câmera. Há, aqui, alguma alusão ao fato de Benson se importar com fotografia e valorizar esse meio criativo.
Ao colocar a câmera toda poderosa (e cara) nas mãos de Benson, a fotógrafa (que supomos ser Emily Spencer Hayden) cria um momento contraditório dentro da história da fotografia. “Mammy” Benson está em uma posição de poder aqui, embora ainda sob o comando da fotógrafa (Hayden). Sabemos pelo livro Viewfinders, de Jeanne Moutoussamy-Ashe1, que existiam fotógrafas negras desde meados do século XIX, mas é essa imagem em particular de Benson que ilustra uma ruptura com o estereótipo da mãe preta e um movimento em direção a mulheres negras que se autorretratam.
Mães negras atrás das câmeras
Chegando à América do século XX, na era pós-Direitos Civis, um novo grupo de fotógrafas negras reivindica este meio expressivo. Um grande número de mães e filhas negras, criadas tanto nas potências imperiais ocidentais quanto em suas colônias, reivindicam um lugar atrás das câmeras. Mulheres como as norte-americanas Carrie Mae Weems, Lorna Simpson, Renee Cox, Adrian Piper e Clarissa Sligh, a cubana Maria Magdalena Campos-Pons e as britânicas Joy Gregory, Maud Sulter e Ingrid Pollard, entre outras, empunham a câmera para reformular as representações opressivas que receberam longo da história.
Séries fotográficas de destaque incluem a Kitchen Table Series (1990), de Carrie Mae Weems, que retrata Weems como uma matriarca que se mantém no campo central das imagens. Embora a série se situe dentro do espaço doméstico, o sujeito não está amarrado a ele. Os autorretratos de Weems (re)definem uma mulher negra que transita facilmente entre várias identidades de poder e de compaixão.
A série Yo Mama, de Renee Cox, do final dos anos 1990, documenta a fotógrafa em toda a sua glória na gravidez, enquanto retratos de estúdio da mesma série a mostram nua, pós-parto, com um físico magro e atlético, segurando os filhos em uma postura que imita a de uma guerreira destemida. Em sua Pietá, de 1994, a imagem de uma Madona negra com o Cristo, Cox se coloca como a figura materna máxima (a Virgem Maria). Vale notar que a apresentação desses dois sujeitos, a Madona e a criança, ou a Virgem e a criança, uma representação tão central para as igrejas católica e ortodoxa, estranhamente imita o posicionamento dos sujeitos nos retratos da ama de leite negra com a criança branca de quem ela cuida, nos retratos da família colonial mencionados anteriormente.
No século XXI, duas fotógrafas criam, dos dois lados do Atlântico, novas visões maternas que deliberadamente consideram a história e os códigos visuais das representações racistas da maternidade negra, dando atenção especial à relação entre mãe e filha. A série Mitocôndria, de Nona Faustine (EUA), é uma coleção de imagens de “três gerações de mulheres que vivem juntas em uma família”. Nela, a fotógrafa mostra sua mãe, sua filha e ela mesma; o título se refere ao DNA mitocondrial codificado em genes humanos, e que é herdado exclusivamente da mãe.
Há duas imagens em particular, na série Mitocôndria, que mostram Faustine e a filha, aparentemente brincando (ou descansando) na praia. Em uma delas, o corpo de Faustine está sobre as rochas irregulares da praia de Coney Island, no Brooklyn, enquanto sua filha está sentada, olhando para o céu azul claro. Na outra, Faustine carrega a filha nas costas enquanto atravessam juntas as ondas agitadas. Embora não haja documentação visual da passagem atlântica (a jornada na qual boa parte dos 12 a 14 milhões de africanos trazidos à força para a América entre os séculos XVII e XIX morreram no mar), as imagens de Faustine podem ser interpretadas como uma homenagem a essas vidas negras. Usando seu próprio corpo e os corpos de suas familiares, Faustine dá vida àquelas que foram anuladas ou interrompidas, e reconhece as histórias não contadas das escravizadas negras norte-americanas que a precederam.
Um olhar entre mãe e filha
A série O Objeto do Meu Olhar (2015-2017), de Marcia Michael (Reino Unido), é um “diálogo matrilinear” que se manifesta pelas lentes. Esta série é a documentação e a culminação de uma performance colaborativa única entre Michael e sua mãe, nascida na Jamaica. Vale notar que as duas mulheres foram filhas e também mães de suas próprias filhas. Nunca na história da fotografia vimos essa troca (carne-com-carne) de uma filha negra que ora fotografa a própria mãe, ora transforma-se nela.
Esta metamorfose mãe/filha tem sido abordada pela cultura popular e a literatura, mas o trabalho de Michael tira proveito de uma autoria fotográfica privilegiada, anteriormente negada a mulheres como ela. Espaços domésticos, tecidos intricados e guarda-roupas compartilhados se tornam a base para imagens que pressagiam a passagem geracional, através da linhagem matrilinear, da sabedoria, das narrativas ocultas e das experiências vividas. Em Partus Sequitur Ventrem, o corpo de Michael e o de sua mãe preenchem o quadro totalmente. Michael emprega tanto imagens em preto-e-branco quanto coloridas, como um indicativo da passagem do tempo.
Ela dispõe as imagens umas por cima das outras, criando uma narrativa complexa em camadas, que abre espaço para a interação, o compartilhamento, a colaboração e a contribuição entre elas.
Como autora fotográfica, Michael reage às culturas visuais anteriores, que designavam o corpo materno negro como um dispositivo indigno de ser admirado e preservado. Em vez de usar a câmera para ver, Michael usa a sua para ouvir. É nesse processo e nessa prova de escuta que testemunhamos um ato de consentimento historicamente negado às mulheres de cor. Os corpos de Michael e de sua mãe são graciosamente comparados e contrastados, seu olhar se concentra nas coxas, seios, costas, nas dobras e marcas da pele. Este é um diálogo silencioso e, como espectadores, podemos testemunhar um momento íntimo, uma observação familiar como processo fundamental de criação de vínculo que ocorre frequentemente entre mães/filhas/avós.
///
A imagem da mulher negra de pele escura como cuidadora de crianças brancas ressoa ainda hoje, e é uma visão comum em grandes cidades americanas abastadas, como no Brooklyn, em Nova York, onde vivo – ainda que, hoje em dia, as babás sejam imigrantes caribenhas. Criar os filhos de outras ainda é uma expectativa social injustamente mantida pela sociedade em relação às mães negras.
Foi só recentemente, com o advento de plataformas de compartilhamento de fotografias, como o Instagram, onde surgiram iniciativas como os perfis @blackmomsbreastfeed e @blackmomsblog, e a hashtag #blackmothers, que temos visto um movimento em massa em direção a uma representação própria da maternidade negra. Esses contra-arquivos digitais permitem e incentivam uma participação aberta, por meio do acesso livre ao conteúdo, à estrutura e à organização. Essas novas ferramentas digitais operam e alcançam públicos de maneiras que a circulação de objetos fotográficos analógicos nunca seria capaz.
Devemos conceder uma autoridade materna àquelas mulheres que há muito foram silenciadas, valorizando a expressão da maternidade negra na fotografia. Sigamos explorando arquivos institucionais para descobrir neles imagens dormentes de mães negras, que existem como narrativas descorporificadas dentro da cultura visual dominante. Pela pesquisa artística, criemos um arquivo vivo da maternidade negra, que confronte questões antigas de conteúdo e inclusão. Continuemos defendendo e promovendo a exibição, no mundo inteiro, de artistas e fotógrafas negras contemporâneas que se atrevem a (re)imaginar os detalhes de suas vidas.
Qiana Mestrich Artista visual, escritora, educadora, empresária digital e mãe de dois filhos, é norte-americana, de origem panamenha e croata. Faz fotografia conceitual, livros e instalações, trabalhando principalmente com sua autobiografia, arquivos, imagens apropriadas, textos e itens efêmeros. Suas críticas de fotografia foram publicadas em revistas de arte como Light Work’s Contact Sheet, En Foco’s Nueva Luz, ARC Magazine e no jornal Society for Photographic Education. Fundou em 2007 a Dodge & Burn: Decolonizing Photography History, iniciativa artística voltada à diversificação da história do meio fotográfico e apoia fotógrafos de cor. Em janeiro de 2017, publicou uma entrevista com as artistas de Mãe Preta no site Dodge & Burn: Decolonizing Photography History. Vive em Nova York, EUA.
NOTAS
1 Jeanne Moutoussamy-Ashe, Viewfinders: Black Women Photographers. Nova York: Writers