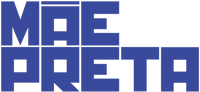Júlio César Medeiros da Silva Pereira | Historiador
“Descalce os teus pés, pois o solo em que você está pisando é sagrado.”
A frase em epígrafe, remonta a chamada de Moisés no Monte Sinai, cuja dramaticidade dos acontecimentos que se sucederiam iria mudar para sempre a história do povo semita. Gostaria, contudo, de poder justificar aqui a aplicação da citação acima em relação a toda reverência que deve ser prestada no solo em que agora estamos. Distante geograficamente do continente africano, este pequeno pedaço de terra (cerca de 100 m2) guarda entranhado em seu meio os restos mortais de milhares de africanos que, uma vez transformados em escravizados, sucumbiram após a dramática travessia do Atlântico.
Retirados a fórceps de Mãe África, foram espalhados pelo mundo em diáspora regando com os seus sangues todos os lugares onde se compravam e vendiam carne humana, preta, fresca e barata e que, no caso do Brasil, chamava-se Valongo.
A sanha dos traficantes de africanos escravizados não poupou as crianças. No transcorrer do tráfico negreiro, a África tornou-se incapaz de suprir a crescente demanda por mão de obra adulta para a lavoura, e passou a enviar contingentes cada vez maiores crianças, que ao morrerem eram lançadas ao solo em que estamos, o antigo Cemitério dos Pretos Novos. Trata-se do maior cemitério de escravos recém-chegados das Américas, cuja característica principal foi o fato de que, nele, os escravizados jamais eram sepultados. Antes, tinham os seus corpos insepultos à or da terra, fato que para as culturas africanas era inconcebível, pois significava um corte definitivo em sua linhagem ancestrálica.
O relato do sepultamento ocorrido em 18 de dezembro de 1827 é emblemático sobre isto. Joaquim Antônio Fernandes De Sá mandou sepultar uma criança escravizada da qual não sabemos nem o seu nome nem a sua idade. O registro amarelado pelo tempo, lavrado na folha 146 do livro de óbitos da Freguesia de Santa Rita, responsável pelo Cemitério dos Pretos Novos, apenas dá conta de uma breve descrição: filha de uma escrava Thereza.
De Thereza, mãe desta criança, a documentação deixa-nos saber muito pouco. Não temos o local de onde foi retirada da África, nem o navio que a transladou para esta terra. Era ladina, batizada e talvez fosse mãe solteira. O que se sabe a partir daí é apenas o que podemos inferir a partir do sentimento materno universal. Era mãe e, uma vez escravizada, sofrera uma dupla perda na vida: primeiro perdera a sua liberdade para homens ávidos pelos altos lucros gerados pelo trá co negreiro; depois vira a sua lha ser levada pelos braços da morte. E esta, por sua vez, como se indigente fosse, acabando por ser lançada à flor da terra neste Cemitério dos Pretos Novos, sem vida, sem nome, sem respeito e sem dignidade.
Como milhares de outras mulheres que já haviam chegado debaixo da pecha de escravizadas e outras milhares que ainda estavam por chegar, Thereza foi subjugada e violentamente atacada em sua condição humana. Deve ter chorado a perda da sua identidade ao ter recebido um nome que não era o seu, deve ter se lamentado não por ter dado a luz, mas sim por estar sozinha e longe de seu povo. Por ter visto sua raiz ancestrálica ser cortada, negando-se à sua prole um sepultamento digno, viu-a assim fenecer como um broto novo e frágil deitado ao solo já enebriado pela seiva vermelha e fresca que incansavelmente sobre ele é derramado.
Thereza lamentou tal estado, pois como era de costume, quer fosse adulto ou criança, uma vez jogados à or terra sem nenhum cuidado mortuário, os corpos dos escravizados eram amontoados no centro do terreno para depois serem queimados, quebrados, retorcidos, desarticulados, desmembrados…
Entrementes, da lha de Thereza, uma coisa a mão do algoz não pode retirar: a sua filiação, pois ao ser filha de uma mulher africana, fora alçada ao patamar de pertencimento materno. Esta raiz de pertencimento a embeleza, a dignifica e lhe basta. Afinal, não é o nome que nos dão, nem a consideração que nos prezam, que nos satisfazem em nossa humanidade, pois esta, antes de tudo, está vinculada à origem de nossa existência. Esta a quem primeiro fomos ligados, de quem primeiro nos nutrimos amamentando-nos em seios nem sempre fartos, mas verdadeiros, ligando-nos à nossa progenitora.
Como a filha de Thereza, pelo menos 10% do total das almas escravizadas e sepultadas neste campo santo contavam nas suas mortes até 8 anos de idade – estima-se que, de 1808 a 1830, pelo menos 15 mil escravizados foram sepultados no Cemitério dos Pretos Novos. A maioria delas nem nome recebeu. Eram chamadas de “crias” se tivessem menos de quatro anos e, a partir daí, recebiam a nomenclatura de moleques e molecas até os 14 anos de idade.
Como foi o caso de uma criança que em 18 de dezembro de 1824 foi trazida em um bergantim, oriundo do porto de Benguela, no continente africano. Ela não suportou aos maus tratos da viagem e o acondicionamento no interior do fétido tumbeiro e, após falecer no mercado do Valongo, foi sepultada sob a inscrição de “uma moleca novinha”. Outro pequenino trouxe em sua anotação fúnebre a descrição mais longa, mas talvez mais dolorosa, de “uma cria de peito”. Era assim que se chamavam as crianças até dois anos.
A morte, definitivamente, não é democrática, pelo menos não o fora no Cemitério dos Pretos Novos, pois dentre os milhares de africanos escravizados traficados para o Brasil, crianças e grávidas eram as que eram tragadas mais e, costumeiramente, o que matava a mãe, levava a filha também. O relato a seguir ajuda-nos a dimensionar esta situação: em 1828, “mãe e filha”, vindas de Luanda, não suportaram as agruras da escravidão e, vindo a óbito, também tiveram seus corpos lançados no Cemitério dos Pretos Novos.
Outras milhares de crianças das quais também não saberemos o nome jazem neste solo como testemunhas de um passado não muito distante em que pessoas vendiam e compravam seres humanos, indiferentemente do sexo e idade, e descartavam os seus corpos inertes em um espaço apertado, cada vez mais amontoados para apodrecer e cheirar mal. Para serem lembrados como o estorvo de uma vizinhança ávida por livrar-se do incômodo vizinho.
Milhares de outros filhos de Thereza ainda temos e que perderam e ainda perdem suas vidas nos becos e valas da cidade, tombando ainda qual brotos cortados, cujos corpos nem sepultados o são.
É impossível não pensar nas milhares de Therezas que brotaram neste país, e como ela amarguraram a escravidão em vida, sentiram na pele a dor do preconceito e perderam seus filhos para as nossas mazelas sociais. Este solo é sagrado não porque algum homem tenha sido comissionado a libertar seu povo em cativeiro, mas porque crianças como a filha de Thereza consagraram com sangue inocente o solo de um país que reluta em dar-lhes o devido valor.
Júlio César Medeiros da Silva Pereira
Doutor em História da Ciência e da Saúde pela Fiocruz, mestre em História Social pela UFRJ e graduado em história pela UERJ/FFP. É também autor das obras À flor da terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro/Editora Garamond, e Kijane Kueza: um guerreiro muito capaz, pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro/Universo dos Livros.